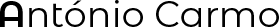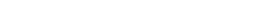Crítica
Valores da Pintura
António Carmo, incansável operador das artes picturais, poeta da cor e da linha, volta sempre ao trabalho, editando nova exposição retrospectiva porque o tempo tenta apagar as várias memórias desse mundo que tem mostrado pelos anos fora e agora o faz de novo no Palácio da Galeria em Tavira, 2018, 50 anos de pintura.
No caso deste artista a questão do tempo consumido não se coloca, porque, nascido em 1949 e desenvolvendo sempre os impulsos expressivos que o definiam de um ponto de vista humano, para ele horas e horas, dias e dias, deviam prendê-lo à oficina, como um deus à sua intemporalidade. Sempre ligado a uma perspectiva das artes e do modelo estético, a ideia da sua ocupação era intrínseca, colava-se ao gosto do ver e do ser, do registo onde o imaginário todos os dias se enchia daquelas configurações populares, espíritos libertos, a dançar ou a cantar em espaços floridos, compactos, eternos. Eram compères nos jardins eternos pela renovação da vida. E as suas composições, desde uma grafia inicial, foram crescendo no mesmo módulo quadrado, universo de uma densa cromografia, populações de não se sabe quando nem como, densas, em festa, em abraços, cuja manifestação comunitária parecia palpitar atrás de uma janela ou desafiar o nosso olhar ao seu assalto.
Num percurso de dezenas e dezenas de...
Ao Correr da Pena
O percurso artístico de António Carmo revela uma ligação aos momentos da sua/nossa história, momentos políticos, sociais e ideológicos, que nos definem, condicionam e nos revelam.
Na década de 60, António Carmo, desenha a repulsa pelo seu tempo, de olhos abertos em rostos com expressão de cansaço e dor, de mãos impotentes à força do querer, num apelo ao despertar do ânimo de (re)começar, da agitação dos pensamentos…
Por oposição às ideias aprisionadas da sociedade, os corpos são desenhados e delineados de uma forma expressiva e enérgica, capazes de traduzir dor, sofrimento, cansaço físico e uma luta constante e permanente de valores humanos.
Esta primeira fase dos seus trabalhos, engloba-se naquilo a que se pode chamar de Desenho de Intervenção, retratando a ausência da dignidade humana e da superioridade (i)moral.
Com o vencer da liberdade, a sua obra foi ganhando um outro tipo de expressão, a cor foi adquirindo maior dimensão, mais dinamismo, mais vitalidade e vigor. A liberdade de pensamento e acção reflectem-se num turbilhão de cores que se harmonizam por entre corpos volumosos e voluptuosos na forma. O mundo passa a estar nas mãos (grandes) de cada um, mas os olhos fecham-se para mundos interiores próprios, para um mundo de oportunidades (cor).
Com o virar do século, o desenho volta a figurar, mas com...
Baptista-Bastos
A arte de António Carmo é uma pesquisa permanente e quase permanentemente inovadora. Diria, não como definição, mas como processo de trabalho e de pesquisa, ser uma arte que resume e sustenta uma particular visão do mundo, nascida de uma especial e pessoal experiência. E é uma relação muito especial com a cultura porque estabelece uma distinção entre o modo de ver e o processo de realizar. O mundo de Carmo é um mundo de valores comprometido com a experiência de vida e a maneira de a modificar.
Sigo, há anos, como amador que tenta ser claro e expressivo, o trabalho deste pintor, e verifico que, só aparentemente, ele se não altera ou modifica. Em cada quadro, em cada um dos seus desenhos (ele é, também, um grande desenhador) a inovação e a proposta de uma outra experiência estão lá consignadas. Depois, ou como princípio, António Carmo pensa a sociedade em que vive subjugando as cores e o desenho aos próprios impulsos, momentâneos ou reflectidos, exigidos pelo seu próprio trabalho.
Ele possui um estilo, quero dizer: um modo muito pessoal de ver, pensando, a realidade que o cerca e, de certa forma, o explica e à sua arte. E nada nele, Na sua arte muito pessoal e significativa existe, também, uma volutabilidade que cria e estabelece esse princípio de originalidade que é a marca dos grandes artistas.
A mão feliz não só...
Maria João Fernandes
ANTONIO CARMO ao encontro da poesia
Chegará a manhã com a sua rosa redonda na boca. E eu canto.
Eu canto. Eu canto. Eu canto. Eu canto.
La barcarola (excerto), Pablo Neruda
O vitalismo e a intensidade lírica são talvez os aspectos que de imediato nos seduzem na pintura de António Carmo. Uma pintura solar de expressivos contrastes pontuados pela presença de cores primárias, os ritmos dançantes animados de audaciosas transparências e uma depuração geometrizante que se liga à voluptuosa encenação da cor desposando as formas generosas, rubensianas.
Planos fragmentados, sobreposições exuberantes num universo de formas em constante movimento, mesmo quando este movimentos é o dos gestos íntimos, dos olhares interiorizados, dos silêncios partilhados.
Íntimos movimentos da alma contagiando as árvores, o sol, o fogo e os rios, o fogo dos rios, o sol das árvores. Mágica, redonda comunhão. O mundo é uma cúpula de alegrias e coloridos segredos da terra. Terra fértil, feminina, primaveril, oferecendo os seus gomos sumarentos, as suas veredas salpicadas de sol, as suas florestas povoadas de pássaros, os rubros fulgores dos seus incêndios. Terra que imita os gestos dos amantes e das raparigas preguiçando, embaladas pela luz e a cálida aragem.
Terra íntima e grandiosa, terra onde ecoa a grande sinfonia da...
Anita Nardon
ANTÓNIO CARMO atingiu a sua plena maturidade como pintor. Nascido no coração de Lisboa em 1949, optou, de uma vez por todas, pelo amor e pela música. Os casais que ele representa através da sua pintura oferecem-se flores mutuamente, enlaçam-se ou dormem no meio de uma vegetação luxuriante, da qual emerge o sonho daquela "casinha" que todos desejam vir a ter. O artista nunca dramatiza uma situação, e se a tristeza surge, a música desvanece-a, e tudo se transforma. Na Bélgica, o artista é conhecido desde 1986 (uma primeira exposição inaugurada numa cidade paralisada por uma greve); as suas obras apareceram em diversos museus, desde Viseu a Tóquio e Rabat, embora permaneça um artista que tem sempre qualquer coisa a dizer a cada um.
Sem utilizar um discurso sobre questões sociais, sugere, no entanto, num ângulo da tela, uma referência ao mundo que podia existir mas que não existe, a um mundo de paz e amor para todos os povos, independentemente da raça e da religião. As mulheres fortes são as verdadeiras estrelas dos seus quadros, e são mulheres fortes e saudáveis, não uma simples quimera, mas mulheres bem reais que cantam, escrevem ou trabalham no campo. Carmo cria uma imagem popular da vida porque ele ama a celebração da vida, fazendo-o em tons frutados, ricos de seiva. Tanto na serigrafia como na pintura, as histórias que nos conta são as mesmas,...